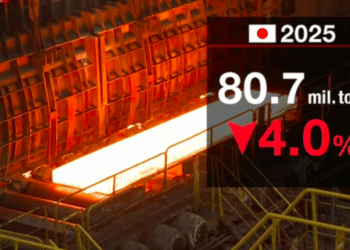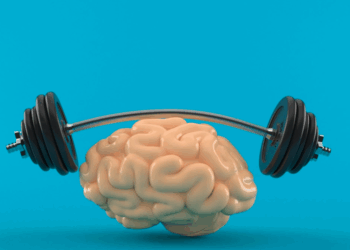As matar milhares de japoneses em Hiroshima e Nagasaki, os EUA deram um alerta aos soviéticos sobre sua hegemonia no mundo e também queriam acabar logo a guerra
“A Segunda Guerra Mundial” (Bertrand Editora, 1095 páginas, tradução de Fernanda Oliveira), de Antony Beevor, um dos maiores historiadores ingleses, trata-se de uma obra mais “inclusiva” sobre a batalha mais sangrenta da história. Como um de seus objetivos é mostrar o conflito como de fato mundial, o autor explicita que a Segunda Guerra pode não ter começado com a invasão da Polônia, em setembro de 1939, e sim na Ásia, um pouco antes. Mas o objetivo deste texto é apresentar a versão de Beevor (e outros historiadores) sobre as razões de os Estados Unidos terem jogado bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945.
A guerra havia acabado na Europa em maio de 1945, mas não na Ásia. Lá, brava e isoladamente, os japoneses mantinham o conflito — resistindo a americanos e aos soviéticos. Mas não tinham a estrutura militar necessária para enfrentar as potências ocidentais, sólidas e vencedoras. O livro “Inferno: O Mundo em Guerra — 1939-1945” (Intrínseca, 766 páginas, tradução de Berilo Vargas), do historiador britânico Max Hastings, sugere que o uso da bomba atômica poderia ter sido evitado com a simples rendição dos japoneses. Entretanto, o governo e os miliares não queriam render-se. Pelo contrário, promoviam verdadeiro massacre de seus oponentes na Ásia, sobretudo chineses, e chegavam a matar prisioneiros americanos para comer sua carne (e não havia fome grassando no país, especialmente entre os militares). Mas, se o Japão não era mais uma grande ameaça, por que os americanos jogaram as bombas atômicas sobre duas de suas cidades? Há uma corrente que sustenta que os Estados Unidos quiseram deixar patente que, com a nova arma, eram de fato a maior potência mundial saída da guerra. Era também uma ameaça à outra potência, a comunista União Soviética. Os historiadores não discordam inteiramente, mas apontam outros caminhos.
Max Hastings escreve: “Objetivamente, estava claro para os Aliados que a derrota do Japão era inevitável, por razões tanto militares quanto econômicas, e que, portanto, o uso de armas atômicas seria desnecessário. Mas a perspectiva de ser obrigado a manter a luta contra bolsões de resistência fanática em toda a Ásia durante meses, talvez anos, era assustadora. Em Tóquio, persistia a crença de que a defesa vigorosa das ilhas japonesas ainda poderia evitar que o Japão precisasse aceitar uma derrota absoluta”.
O autor de “Inferno” cita o chefe do estado-maior do Japão, general Yoshijiro Umezu, que, num artigo fantasioso para um jornal, em maio de 1945, escreveu: “O caminho certo para a vitória numa batalha decisiva consiste em unir os recursos do império em apoio ao esforço de guerra e em mobilizar toda a força do país, tanto física quanto espiritual, para aniquilar os invasores americanos. O estabelecimento de um espírito metafísico é a primeira condição essencial para travar uma batalha decisiva. É preciso sempre enfatizar uma dedicação enérgica à ação agressiva”. Um oficial do Departamento de Ensino do Exército criticou duramente o major Yoshitaka Horie, que teria dado uma palestra derrotista a cadetes: “Suas palestras são tão deprimentes que os oficiais que assistem a elas vão acabar perdendo a vontade de lutar. O senhor precisa conclui-las com otimismo, assegurando-lhes que o exército imperial ainda está pronto para o combate”.
Numa interpretação heterodoxa — dado o genocídio nas duas cidades japonesas, historiadores temem o opróbio público ao discutir a questão —, Max Hastings afirma, corajosamente, que “alguns dos que hoje criticam com veemência o uso das bombas ignoram o fato de que cada dia de guerra a mais significava que prisioneiros e escravos do império japonês na Ásia continuariam a morrer aos milhares. (…) O que muitos críticos modernos do bombardeio de Hiroshima e Nagasaki cobram, na verdade, é que os Estados Unidos deviam ter aceitado uma responsabilidade moral de poupar o povo japonês das consequências da teimosia de seus próprios líderes. Nenhuma pessoa em sã consciência sugeriria que o uso das bombas atômicas representou um bem absoluto ou mesmo que foi um ato justo. Mas ao longo da guerra fora necessário cometer muitos atos terríveis em prol da vitória dos Aliados e presidir uma enorme carnificina. (…) O regime de Tóquio teve imensa responsabilidade pelo que ocorreu em Hiroshima e Nagasaki. Tivessem os líderes do Japão dado ouvidos à lógica, pensado no bem-estar de seu próprio povo e abandonado a guerra, as bombas atômicas jamais teriam sido lançadas”.
Há quem critique a tese de Max Hastings, sugerindo que, para provar sua hegemonia, os Estados Unidos teriam jogado as bombas de qualquer maneira. O que Max Hastings sugere é que não há evidência documental disso. O historiador ressalta: “O maior erro de [Harry] Truman foi não apresentar um ultimato explícito antes do ataque a Hiroshima e Nagasaki”.
Antony Beevor é mais radical do que Hastings: “É perfeitamente claro que, sem as bombas atômicas, [o imperador Hiroíto, do Japão] não teria reunido a determinação serena que mostrou mais tarde em acabar com a guerra. O bombardeamento de Tóquio e a decisão de largar as bombas atômicas foram guiados pelo anseio dos americanos de ‘acabar com aquele assunto’. Mas a ameaça da resistência kamikaze, talvez até com armas biológicas, ameaçava ser uma batalha muito pior do que em Okinawa”.
Segundo Antony Beevor, “vários membros civis do regime japonês estavam interessados em negociar, mas sua insistência fundamental — que o Japão fosse autorizado a ficar com a Coreia e a Manchúria — nunca poderia ser considerada aceitável para os Aliados”. Max Hastings, cujo livro é anterior ao de Beevor, anota: “Em meados do verão de 1945, os governantes do Japão desejavam acabar a guerra; mas seus generais, e alguns políticos, ainda estavam empenhados em obter termos ‘honrosos’, que incluíam, por exemplo, a retenção de partes substanciais do império japonês na Manchúria, na Coreia e na China, além de um acordo dos Aliados para poupar o país de uma ocupação ou de julgamentos por crime de guerra”.
O historiador britânico Andrews Roberts, no livro “A Tempestade da Guerra — Uma História da Segunda Mundial” (Record, 811 páginas, tradução de Joubert de Oliveira Brízida), nota que, apesar da primeira bomba atômica ter destruído Hiroshima e matado milhares de pessoas, o Japão continuou lutando. “O governo japonês resolveu, apesar de tudo, continuar combatendo, na expectativa de que os Aliados tivessem apenas aquela bomba e acreditando que suas amadas ilhas poderiam ser defendidas com sucesso contra a invasão e a desonra da ocupação”, relata.
Os japoneses estavam enganados e os americanos jogaram a segunda bomba, agora em Nagasaki, em 9 de agosto de 1945, matando milhares de pessoas (73.884 mortos e 74.909 feridos).
A destruição de Nagasaki, com a morte de tantas pessoas, levou o governo japonês a recuar. Em 15 de agosto de 1945, o imperador Hiroíto admitiu ao povo japonês, em pronunciamento pelo rádio, “que a guerra não resulta ‘necessariamente vantajosa para o Japão’, sobretudo em vista ‘da nova e cruel bomba’”.
Andrew Roberts conta que, “quando o imperador se preparava para a radiodifusão, um grupo de jovens oficiais invadiu a área do palácio em uma tentativa de golpe para que ele não a fizesse”. Antony Beevor corrobora: “Oficiais do exército tentaram um golpe para evitar a transmissão do anúncio do imperador. (…) Quando as tropas leais [a Hiroíto] chegaram, o major Hatanaka Kenji, o principal cabecilha do golpe, soube que não tinha alternativa a não ser suicidar-se”.
Max Hastings registra: “O comandante Haryushi Iki, piloto de caça, disse: ‘Nunca me permiti pensar na possibilidade de perder a guerra. Quando os russos invadiram a Manchúria, fiquei terrivelmente deprimido — mas nem aí consegui aceitar que havíamos perdido’. Algumas figuras importantes, incluindo o ministro da Guerra e um bom número de generais e almirantes, cometeram suicídio ritual, exemplo seguido por centenas de pessoas mais humildes. ‘Havia uma clara divisão de opiniões no exército sobre se deveríamos terminar a guerra’, disse o oficial de inteligência do estado-maior major Shoji Takahashi. ‘Muitos homens nossos na China e no Sudeste Asiático era a favor de continuarmos lutando. A maioria dos que estavam no Japão admitia que não podíamos prosseguir. Eu tive certeza de que, depois que o imperador falou, era preciso desistir’”.
No livro “Europa na Guerra —1939-1945” (Record, 599 páginas, tradução de Vitor Paolozzi. Recomendo este livro como porta de entrada ao estudo sobre a Segunda Guerra, porque, além de discutir a bibliografia especializada mais recente, debate filmes e livros literários sobre o assunto), o historiador britânico Norman Davies escreve, secundando os demais pesquisadores: “Resta saber se essa decisão [capitulação japonesa] foi mais inspirada pelas bombas atômicas ou pela iminente invasão soviética. De todo modo, o Exército Vermelho já tinha desembarcado na ilha do Japão mais ao norte, Hokkaido, antes de a rendição geral ser assinada a bordo do USS Missouri, na baía de Tóquio, em 2 de setembro” de 1945.
Antony Beevor amplia o que assinala Norman Davies: “Embora o combate tivesse cessado em todo o Pacífico e no Sudeste Asiático a 15 de agosto, a guerra tinha continuado na Manchúria até ao dia anterior à cerimônia na baía de Tóquio [a rendição de Hiroíto]. A 9 de agosto, três frentes soviéticas, com 1.669.500 homens sob o comando do marechal Vasilevsky, invadiram o norte da China e a Manchúria. (…) O sentido de oportunidade e a velocidade da ofensiva do Exército Vermelho apanharam os japoneses de surpresa. Embora com 1 milhão de homens, as suas forças cederam rapidamente. Muitos morreram a combater até ao fim e muitos cometeram suicídio, mas 674.000 foram feitos prisioneiros. O seu destino nos campos de trabalho da Sibéria e Magadan foi duro. Só metade sobreviveu. (…) As tropas do Exército Vermelho violavam as mulheres japonesas à vontade no antigo governo-fantoche de Manchukuo”. Muitas mulheres se mataram.
Antony Beevor revela a história, mas não a aprofunda. Max Hastings conta que, além das mortes divulgadas por Antony Beevor, “aproximadamente 80 mil soldados japoneses pereceram” combatendo os soviéticos. “Em alguns lugares”, no enfrentamento com os soviéticos, “os defensores” japoneses “lutaram até o último homem, sustentando a resistência por 10 dias depois do término oficial da guerra”. Morreram 12 mil soviéticos em combate. Os soviéticos mataram mais japoneses do que as duas bombas atômicas.