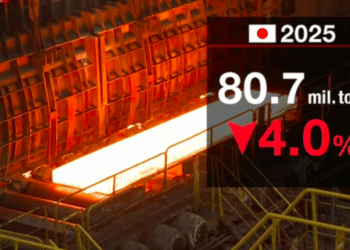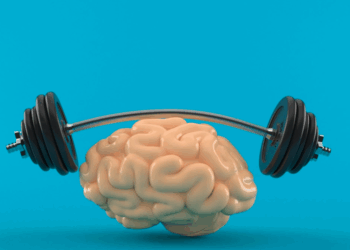O grande charme do município de Kagawa é que lá não acontece muita coisa. O lugar aperfeiçoou o macarrão udon gelado; seus jardins Ritsurin têm um paisagismo incrível e imutável há 400 anos; em 2013, um Boeing 787 fez um pouso de emergência em segurança no aeroporto.
Um lugar improvável, portanto, para mergulhar nos três ferventes debates globais sobre dependência de videogames, responsabilidade dos pais e direitos do indivíduo.
Embora a coisa toda hoje esteja rigidamente cerceada pela pandemia e pela grande charada do “tempo de tela” que aflige as famílias em todo lugar, a confusão em Kagawa é anterior à Covid-19. Começou com Ichiro Oyama, ex-presidente da assembleia local, e sua filha, que na opinião dele passava tempo demais trancada no quarto jogando quando era mais nova.
Para muitos pais, a solução poderia ser uma repreensão, o confisco do brinquedo ou a ameaça de ser deserdada. Oyama preferiu atiçar os sisudos parlamentares locais em um frenesi de proscrição, entrar em um novo reino de interferência do Estado na vida familiar e aprovar um decreto draconiano.
Em janeiro, Oyama propôs uma ordem —a primeira do tipo no Japão— que proibiria que qualquer pessoa com menos de 18 anos jogasse mais de uma hora por dia (90 minutos nos fins de semana) em celulares, PCs e consoles.
A regra, que acrescenta um toque de recolher a smartphones às 21h para jovens até 15 anos, não seria aplicada diretamente pelo Estado; esse peso caberia aos pais “responsáveis” transformados em sentinelas das telas.
Dois meses depois, a assembleia —formada por 98% de homens, na maioria em torno de 70 anos— a aprovou, projetando a velha e ranzinza Kagawa como uma pioneira de visão clara em um mundo que tenta encontrar respostas para o vício em telas.
Esperem um pouco, diz um rapaz de 17 anos que ama seus games e considera a ideia dos vereadossauros de Kagawa um abuso de poder inaceitável.
O estudante colegial, que usa apenas o nome de Wataru, começou uma vaquinha digital para repelir o decreto, afirmando que foi criado de forma não científica, coloca o Estado de maneira invasiva numa questão que deveria ser decidida pelas famílias e infringe claramente o direito fundamental dos cidadãos japoneses à autodeterminação.
A luta de Wataru poderia ter perdido o ímpeto, mas agora ele conseguiu a aliança do advogado Tomoshi Sakka, famoso pela insistência com que habitualmente contesta as leis e seu respeito à letra e ao espírito da Constituição do Japão.
O duelo em Kagawa merece atenção por dois motivos.
O primeiro é que Oyama talvez tenha certa razão. O vício em jogos é um problema, a indústria global de games, de US$ 150 bilhões (R$ 829 bi), está melhorando no “design convincente” (tornar os jogos mais palatáveis) e muitos governos parecem mais propensos a decidir que a intervenção é uma questão de saúde pública. Poucos, resmungam os chefes da indústria de games, vão entender isso direito.
No ano passado, após quatro anos de consulta, a Organização Mundial da Saúde adicionou “distúrbio ligado a jogos” à sua classificação internacional de doenças.
Por mais depressa que os governos tenham agido em outro sentido, a Covid-19 forçou pais e filhos a reconhecerem o vício em telas: foi apenas questão de tempo para que a ideia de limitar o tempo de tela saltasse das salas de estar para os órgãos legislativos.
Mas a maior importância do desafio de Sakka é enfatizar, mais uma vez, a riqueza da Constituição japonesa de 1947, elaborada pelos americanos, para a imagem do país e a confiança pública de que o poder pode ser contestado.
A reação comparativamente liberal do Japão ao coronavírus —quarentenas voluntárias e simples sugestão de fechamento de empresas— foi marcada pelo liberalismo da Constituição e aquilo que ela, mesmo em situações extremas, não inclui.
O “lockdown” suave, assim como a possível derrubada do decreto de Kagawa, poderão ter um custo para a saúde pública, mas muitos irão tranquilamente considerar esse custo válido.