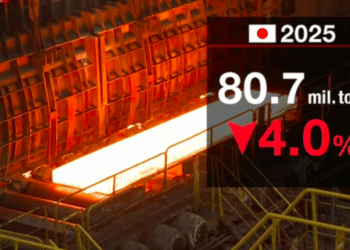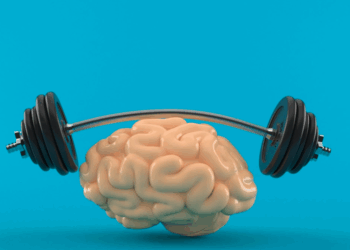Há mais de 40 anos, quando minha família se mudou da Califórnia para Tóquio, o fato de minha mãe ser japonesa não impedia que crianças da escola apontassem para mim e gritassem “Gaijin!” – a palavra japonesa para ‘estrangeiro’ – quando eu andava na rua.
Ao ver meu pai com seus cabelos vermelhos e os olhos azuis, a dona de uma loja no bairro onde morávamos perguntou à minha mãe como era trabalhar de babá na casa do americano.
Quando voltamos para a Califórnia, dois anos mais tarde, comecei a cursar a quarta série e de repente fui apontada como a garota asiática. “Ching chong chang chong ching!” gritavam os meninos no recreio, esticando o canto dos olhos com os dedos. Meus colegas de classe torciam o nariz por causa dos onigiri – bolinhos de arroz enrolados em algas marinhas secas – que mamãe punha na minha lancheira.
Quando a professora mencionou o Japão em uma aula de estudos sociais, todas as cabeças da classe se viraram para olhar para mim.
Agora, de volta a Tóquio como correspondente estrangeira deste jornal, não sou mais apontada pelas pessoas na rua. Mas incontestavelmente sou olhada como estrangeira. Quando apresento o meu cartão de visita, as pessoas observam o meu rosto e depois perguntam perplexas o porquê do meu nome. Ao que tudo indica, a minha parcela japonesa não chega a ser percebida.
Nas últimas semanas, cobrindo a reação local à conquista do campeonato de tênis por Naomi Osaka, filha de mãe japonesa e pai haitiano-americano, e Denny Tamaki, que é filho de mãe japonesa e de um fuzileiro naval americano branco, eleito recentemente governador de Okinawa, eu me perguntei se as atitudes japonesas em relação à identidade não estarão lentamente começando a aceitar aqueles que têm heranças mistas.
Nos últimos vinte anos, aproximadamente uma em cada 50 crianças nascidas anualmente no Japão tinha um dos pais estrangeiro. Aqui somos conhecidos como “hafu”, que deriva do inglês “half”- metade- , e o fato de existirmos desafia a corrente da sociedade japonesa que confunde identidade nacional com etnia puro-sangue.
Durante a campanha de Tamaki a governador, em Okinawa, algumas pessoas insinuaram na mídia social que, na realidade, ele não era japonês. Outros compararam a sua candidatura à de Barack Obama em 2008.
“Uma criança ‘hafu’ irá se tornar um líder”, alguém escreveu no Twitter. “Vamos ver um sonho também em Okinawa, o mesmo que as pessoas viram quando Obama se tornou presidente dos Estados Unidos”.
Quando Naomi Osaka chegou a Tóquio, no mês passado, pouco depois de ganhar o Aberto de tênis nos EUA para o Japão, um repórter japonês perguntou o que ela achava de sua identidade, dando origem a um debate na mídia tradicional e na social sobre a propriedade da pergunta. Naomi deu a melhor resposta possível: “A minha identidade sou eu mesma”.
A sua postura serena, até mesmo despreocupada, fez com que eu me sentisse menos torturada a respeito da minha. Há muito tenho a sensação de ser até certo ponto uma impostora porque não sou muito fluente na língua. Mas o japonês de Naomi também é imperfeito.
Como campeã, ela foi muito festejada, e a mídia japonesa a seguiu em sua estada muito breve e movimentada em Tóquio, no mês passado, obcecada por sua busca de um bom sorvete de chá verde. Uma raquete de tênis Yonex semelhante à que ela usa e um modelo de relógio Citizen que usou quando derrotou Serena Williams no Open aumentaram consideravelmente suas vendas no Japão.
Naomi foi talvez mais bem-recebida do que Ariana Miyamoto, uma jovem mestiça negra e japonesa coroada Miss Universo Japão em 2015. Na época, os juízes que a selecionaram foram criticados por pessoas que afirmaram que ela não parecia suficientemente japonesa.
No entanto, o público recebeu muito bem vários atletas e atores de televisão “hafu” no Japão, mesmo que a sua popularidade oculte talvez uma íntima ambivalência. “Percebe-se uma mescla de inveja e desconforto”, disse Gracia Liu Farrer, professora de sociologia na Waseda University em Tóquio, que estuda a imigração.
Tenho plena consciência de que, se a nossa alteridade está sendo cada vez mais aceita, é em razão do que a maioria do povo japonês vê imediatamente. Ser em parte branca no Japão representa um privilégio raramente desfrutado pelas pessoas de herança asiática mista. Quando uma candidata meio taiwanesa concorreu à presidência do partido da oposição, por exemplo, os críticos nacionalistas quase provocaram o fracasso da sua candidatura porque a acusaram de duplicidade, por não ter oficialmente renunciado à sua cidadania taiwanesa.
A popularidade de Naomi Osaka no Japão talvez dependa em parte do que os comentaristas consideram seu comportamento autenticamente japonês. Ela é sempre muito elogiada por sua humildade, e a mídia enfatizou o seu pedido de desculpas por ter ganho contra Serena Williams.
Eu me irritei com interpretações semelhantes do meu comportamento nos Estados Unidos. Quando tenho uma atitude reservada ou menos afirmativa do que as pessoas acham que determinada situação poderia exigir, eles a atribuem ao meu “lado japonês”.
Aqui no Japão, sei que o meu “lado americano” pode constituir uma vantagem para mim. Particularmente por ser uma mulher em uma sociedade dominada pelos homens é útil ser olhada, em primeiro lugar, como estrangeira e, em segundo lugar, como mulher.
Suzanne Kamata, uma escritora americana que viveu na região rural de Shikoku por 30 anos e criou seus filhos gêmeos de 19 anos com seu marido japonês, disse que a identidade bicultural dos filhos poderá libertá-los de algumas das mais rígidas expectativas da sociedade japonesa.
“A identidade japonesa parece extremamente exigente, com inúmeras regras, e também a ideia de que todos os japoneses têm a mesma maneira de pensar”, disse Kamata. “Por isso suponho que é bom ser ‘outro’ ”.
Os americanos frequentemente concordam com o mito de que nós já estamos vivendo em uma sociedade que aceita todos os tipos de alteridade. Mas quando os colegas me confundem com outra funcionária asiática na redação, eu me dou conta de que algumas pessoas ainda querem instintivamente me classificar como integrante de uma das duas categorias, mas não de ambas.
Quando, há dois anos, me mudei para cá com meu marido e nossos dois filhos em idade escolar, eu os matriculei em uma escola internacional, onde muitos dos seus colegas de classe eram biraciais. Como cresci em uma cidade em que poucas pessoas se pareciam comigo, sou grata por eles poderem passar a sua adolescência cercados de amigos que têm em comum sua herança mista.
Pouco depois de chegarmos a Tóquio, saí para jantar com uma americana branca amiga dos meus pais que é mãe de duas filhas, com o seu marido japonês. Quando perguntei o que elas achavam do fato de terem crescido aqui como “hafu”, ela sugeriu que eu deveria corrigir minha linguagem. Ela diz às filhas que nunca devem se considerar menos, mas sempre mais. Ela disse que não as chama “hafu”, metade, mas “o dobro”. E isto para mim foi ótimo.